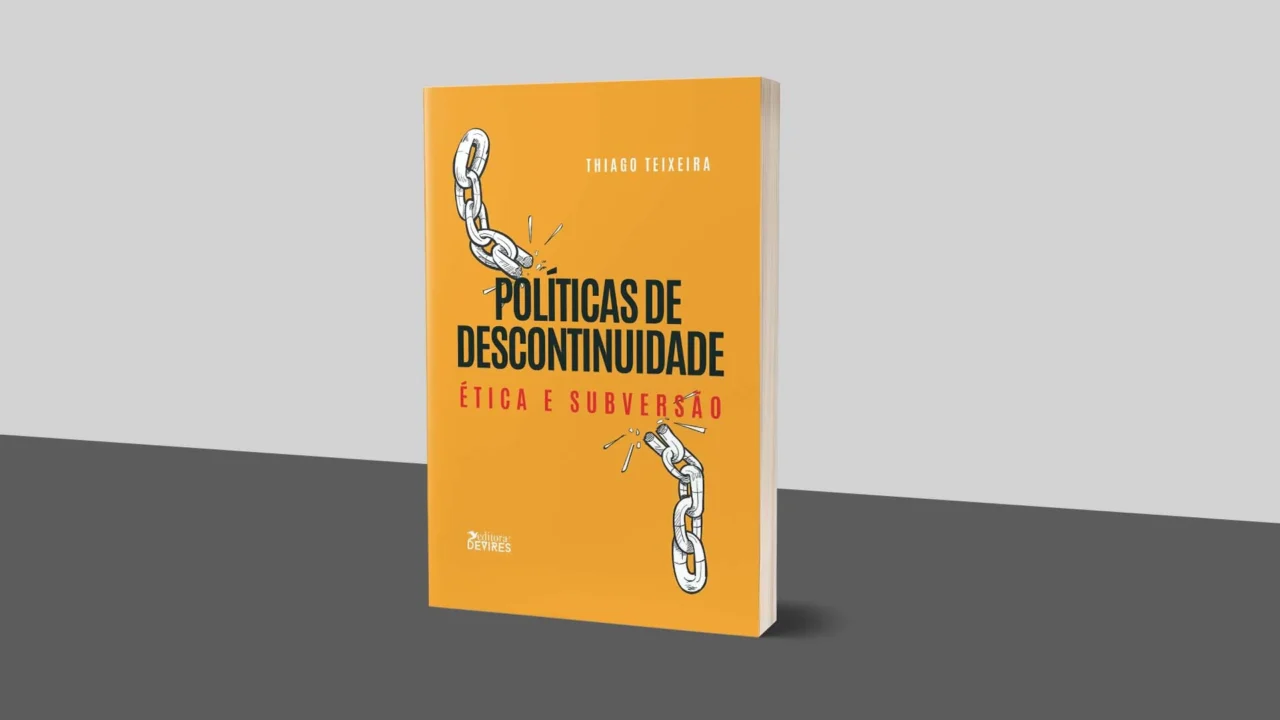Inicialmente, o termo etimológico para identificar o significado de raça, tem suas raízes do latim “Ratio” significa uma categoria de espécie ou raça que tem como campo semântico, dimensional temporal e espacial, atrelado ao seu sentido, bem como às circunstâncias históricas. No campo das ciências biológicas, baseado nas classificações taxionômicas, desde a segunda metade do século XX, as pesquisas genéticas têm apontado que não existe diferenças significativas entre os grupos humanos que justifiquem o conceito de raça, devendo compreender a palavra raça como uma categoria social de diferenciação, utilizada para marcar identidades e estruturar relações de desigualdades, uma categoria social e não biológica, refere-se a grupos sociais que muitas vezes compartilham herança cultural e ancestralidade, sendo moldados por sistemas opressores de relações raciais justificados por ideologias, a palavra raça constitui um núcleo semântico em torno do qual se alinham os sistemas identitários e etiológicos de organização social.
Nesse diapasão, classifica-se racismo como o ato de distinção de uma pessoa ou grupo por associar características físicas e étnicas a estigmas, estereótipos e preconceitos, sendo assim, toda essa discriminação surge com tratamento diferenciado, resulta em uma exclusão de pessoas, opressão e segregação. Contudo, a partir da aplicação da teoria darwinista às ciências humanas constitui-se às teorias racialistas e evolucionistas sociais, essas teorias surgiam do entendimento que àquela época haveria uma superioridade racial de determinados grupos sociais, sobre outros grupos, a história humana era unilateral e dividia-se em fases, que ocasionariam da barbárie à civilização. Com esse pensamento é que se justificava os empreendimentos neocoloniais e a estabelecida escravidão de povos não brancos, o que nos séculos seguintes refletiriam às mais variadas formas de racismo (Sodré, 2023).
No âmbito histórico, surge a classificação de seres humanos, que serviria não apenas ao conhecimento filosófico, mas ao uso das tecnologias do colonialismo europeu para a subjugação e aniquilação de populações, o que ajudava a contribuir para a perpetuação da supremacia como um sistema político.
Nesse sentido, existia uma realidade social estruturada pelo ideal de branqueamento e pelo mito da democracia racial, que manteve intacto o padrão brasileiro de relações raciais, impedindo a criação de políticas que pudessem corrigir as desigualdades raciais no país, uma vez que essas desigualdades não eram reconhecidas .Sendo importante compreender os efeitos desse processo na subjetivação contemporânea, diferenças mínimas no tom da pele tornaram-se dados sociais significativos, surgindo assim situações em que os favores eram distribuídos entre os mestiços na base do seu grau aparente de mistura (Borges, 2023).
Nessa senda, surge a ideologia de branqueamento, que causou auto rejeição, inferiorização e a não aceitação do outro assemelhado étnico, tornando a busca pelo branqueamento nas pessoas de pele clara algo internalizado, por outrora é considerado como o “racismo do negro”, a procura por identificação com o branco, a negação dos seus caracteres fenótipos, as tentativas de clarear a pele e ter cabelos lisos às custas de química, a rejeição à sua cultura e aos seus assemelhados étnico/raciais (Cavalleiro, 2024).
Emerge como forma de discriminação baseada na cor da pele, em que pessoas com tons mais escuros enfrentam maior probabilidade de exclusão na sociedade, torna-se evidente que indivíduos com pele mais clara consequentemente têm uma maior oportunidade a espaços sociais do que as pessoas com tons de pele mais escuros, o que perpetua mais o sofrimento. Resquícios dos processos de subjetivação do racismo, ocasiona uma busca pelo embranquecimento, que não é uma escolha do negro e sim uma imposição estatal (Santos, 2024).
A opressão perpetrada pelo racismo no Brasil se traduz numa exclusão social identificada nos mais diversos espectros sobre os quais vise compreender os entraves que persistem na estrutura da sociedade brasileira. O escravismo colonial promoveu uma transformação no olhar sobre a formação social brasileira, a partir das categorias como, modo de produção e formação social. A primeira maneira de reconhecimento do escravo como homem (e não coisa), foi dada pela legislação com a responsabilidade penal e acaba sendo estudada a partir da escravização negra como pressuposto de transição do status de objeto para sujeito de direito, ainda que venha a ser de uma forma limitada e contraditória, reconhecendo a humanidade do escravizado apenas para puni-lo e não para lhe garantir direitos ou dignidade (Do Nascimento, 2025).
Segundo o que o historiador Luiz Felipe Alencastro menciona, a conjuntura da abolição não era somente a liberdade dos escravizados, mais o temor de que ocorresse uma reforma agrária, sendo assim o abolicionista André Rebouças, propôs que fosse criado um imposto sobre fazendas improdutivas e que essas terras fossem distribuídas entre ex-escravos, a partir desse momento, houve um acordo entre os latifundiários e o movimento republicano para que a propriedade rural fosse poupada e a liberdade aos negros fosse concedida, sem compensação ou alternativa de inserção no mercado de trabalho dos homens livres (Do Nascimento, 2025). Assim, os latifundiários passaram a trazer imigrantes europeus para trabalhar nas terras, e os ex-escravizados, mesmo sendo brasileiros, ficaram sem trabalho na zona rural, e boa parte era composta por analfabetos.
Referências
____________________
BORGES, Jéssica Angélica de Melo; PURIFICAÇÃO, Marcelo Máximo; CATARINO, Elisângela Maura. O RACISMO E O MITO DA DEMOCRACIA RACIAL: FORMAS DE OPRESSÃO A POPULAÇÃO NEGRA. Revista Educação, Psicologia e Interfaces, v. 7, n. 1, p. v5i1. 491-v5i1. 491, 2023.
CAVALLEIRO, Eliane. Racismo e antirracismo na educação: repensando nossa escola. Selo Negro Edições, 2024.
DO NASCIMENTO, Gilberto Cipriano. As Sequelas do Escravismo no Brasil Contemporâneo. AYA Editora, 2025.
SANTOS, Joane Bispo Gomes dos. “Eu sinto na pele”: uma análise da discriminação percebida, identidade racial, autoestima e autoimagem corporal de adolescentes negras. 2024.
SODRÉ, Muniz. O fascismo da cor: uma radiografia do racismo nacional. Editora Vozes, 2023.