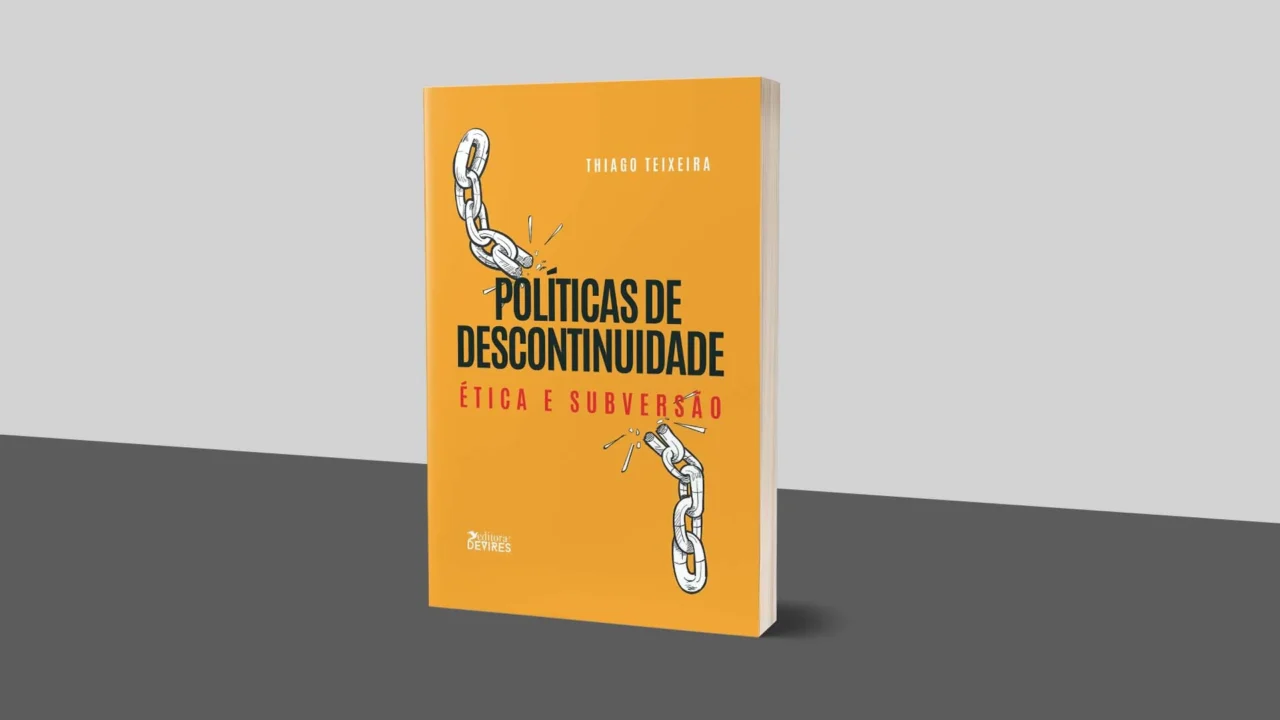INTRODUÇÃO
O debate sobre a violência é um tema antigo e recai sobre toda a sociedade, independentemente de cor, raça, gênero ou quaisquer outras circunstâncias. A prática de violência começou a ser discutida desde o século XIX, passando, desse modo, a ser considerada um fenômeno social e despertar a preocupação não apenas da sociedade, mas dos gestores estatais.
A Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos reconheceu a violência contra a mulher como uma violação dos direitos humanos. Desde então, os governos dos países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) e as demais organizações internacionais lutam pela conscientização e eliminação de qualquer espécie de ato violento. Além da violência ser classificada e estudada a partir de uma visão interdisciplinar, ou seja, por diversas áreas do conhecimento, ainda reflete na saúde pública, pois potencializa o número de acesso aos profissionais da medicina e psicologia.
Diante da problemática da violência, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) contribui de forma constante para que ocorra o aprimoramento do combate à violência contra a mulher, inclusive no âmbito do Poder Judiciário. A título de exemplo, no ano de 2007, por intermédio das Jornadas Maria da Penha, o Conselho Nacional de Justiça criou espaço direcionado para debates, orientações e cursos acerca da aplicação da Lei Maria da Penha.
Face à relevância das considerações expostas, o objetivo do presente artigo é debater, por intermédio da metodologia de revisão bibliográfica, o fenômeno da violência contra a mulher e discutir como as pessoas ainda agem com base no machismo estrutural. Desse modo, o bullying é considerado como uma das modalidades de violência e recai inclusive sobre o gênero.
BREVE REFLEXÃO SOBRE GÊNERO
Inicialmente, faz-se necessário entender o gênero como elemento constitutivo nas relações sociais, ou seja, uma abordagem baseada nas diferenças entre os sexos e como isso reflete nas relações de poder. Assim, o termo gênero pode ser concebido a partir do modo com que a sociedade constrói as diferenças sexuais, atribuindo de forma desigual as oportunidades e os espaços sociais (KRONBAUER; MENEGHEL, 2005).
Ainda, é necessário entender a diferença entre gênero e sexo. O gênero é um conceito com base cultural e relacionado ao modo com que a sociedade constrói as relações sexuais, atribuindo, assim, o status diferente para mulheres e homens. Já a palavra sexo possui relação com a característica anátomo-fisiológica das pessoas. Percebe-se, dessa maneira, que o gênero está relacionado com as dimensões sociais que são originárias da sexualidade das pessoas (KRONBAUER; MENEGHEL, 2005).
A esse respeito:
[…] Se as mulheres sempre se opuseram à ordem patriarcal de gênero; se o caráter primordial do gênero molda subjetividades; se o gênero se situa aquém da consciência; se as mulheres desfrutam de parcelas irrisórias de poder face às detidas pelos homens; se as mulheres são portadoras de uma consciência de dominadas20; torna-se difícil, se não impossível, pensar estas criaturas como cúmplices de seus agressores. No entanto, esta posição existe no feminismo. No Brasil, ela foi defendida por Chauí e Gregori. Estes trabalhos foram alvo de muita crítica por tomarem como socialmente iguais categorias de sexo, cujas relações são atravessadas pelo poder. (SAFFIOTI, 2001, p. 126).
Verifica-se que o estudo dedicado ao gênero conta com uma longa trajetória, que pode ser marcada inicialmente no ano de 1960. Assim, no ano de 1968 ocorreram as revoltas estudantis de maio em Paris, a primavera de Praga na Tchecoslováquia, os Black Phanters, o movimento Hippie e as lutas contra a guerra do Vietnã nos EUA. De tal modo, todos esses movimentos possuem um objetivo em comum, ou seja, o reconhecimento dos direitos da mulher e as condições igualitárias (GROSSI, 1998).
Importante destacar que, apesar das lutas constantes das mulheres pelo reconhecimento isonômico de espaço e oportunidade, revelou-se que elas ainda eram colocadas em segundo plano em discussões, espaços sociais e políticos, sobretudo quanto a lideranças políticas, pois, quando se tratava de discursar em público ou até mesmo na escolha de uma pessoa para atuar na representatividade do povo, os homens eram exaltados e não restava espaço para as mulheres (GROSSI, 1998).
Ainda nos anos de 1960, ocorreu outro fato de destaque relacionado à sexualidade, a saber, o uso de pílula anticoncepcional que passou a ser comercializada. Por outro lado, a virgindade da mulher, que era um dos valores essenciais para a mulher se casar, começou a ser questionada. A título de exemplo, no Ocidente, o sexo era entendido como fonte de prazer e não somente direcionado à reprodução humana (GROSSI, 1998).
Sem dúvidas, os movimentos sociais colaboram muito para a evolução e pelo reconhecimento de um direito igualitário. Assim, o movimento feminista e o movimento gay merecem destaque, pois ambos refletem na sociedade, no direito, na economia e na educação. A pergunta que se faz é: qual a influência no campo da educação? Influência, justamente porque é na educação (em todos os níveis) que as lutas sociais ganham embasamento e são potencializadas por debates estudantis e universitários (GROSSI, 1998).
Apesar da temática ser debatida na sociedade e na educação, ainda ocorre a violência de gênero, que pode ser conceituada como dano ou sofrimento físico, psicológico ou sexual à mulher (GROSSI, 1998). Infelizmente, mesmo no ano de 2021, ainda se percebe que as mulheres sofrem o preconceito de gênero em vários espaços, dentre eles: na educação, nas relações afetivas, no trabalho e na política.
Isso posto, no próximo tópico, discute-se o preconceito contra a mulher e os seus desdobramentos.
BULLYING FEMININO
A violência é um problema universal que pode ser classificado de diversas formas, mas uma delas que será destacada no presente artigo é o bullying. Ele se apresenta desde os primeiros anos de vida da pessoa, em especial em ambiente escolar, pois sempre existe uma divisão de meninos e de meninas, além de outras que são constituídas em ambiente educacional (GRILLO, 2013).
Assim, a escola tem importante papel social para o desenvolvimento cognitivo e pessoal, pois envolve atividades pedagógicas programadas, além da convivência no dia a dia. Por outro lado, quando as diferenças são apresentadas, os casos de violência escolar começam a surgir. Nesse cenário, tem-se a figura do bullying (GRILLO, 2013).
Existem, ainda, outros fatores que podem ser utilizados como justificativa para a prática de violência, um deles é a ausência de políticas públicas adequadas. Nesse caso, as escolas não possuem mecanismos capazes de identificar e acompanhar uma pessoa que é vítima de violência. Uma das justificativas dessa omissão é justamente a ausência de equipes multidisciplinares, prestadora de serviços para as escolas (GRILLO, 2013). A título de exemplo, se uma criança ou um adolescente sobre bullying, a escola não possui pessoal capacitado para atender às demandas da escola ou da comunidade que necessita do atendimento.
Por essa razão:
[…] O fenômeno conhecido como bullying tem ganhado a cada dia maior relevância na mídia, gerando grande preocupação para pais, professores e sociedade em geral, não podendo ser encarado como um problema apenas da escola, mas de toda a sociedade, notadamente porque o bullying possui características diferentes de outras agressões. Além do mais, para a materialização dessa agressão, são apresentados quatro elementos: vontade intencionada do autor em ferir a vítima; repetição da agressão; presença de espectadores; e a concordância da vítima com a ofensa. (SENA et al., 2020, p. 47).
Desse modo, percebe-se que o bullying é contemplado em uma sociedade que cultiva diversas formas de discriminações e desigualdades, pois adota posturas lenientes em relação ao poder e à desigualdade. Ao mesmo passo que se trata de violência, desigualdade e discriminação, as temáticas bullying e mulher são fundidas, pois em pleno ano de 2021 a sociedade exerce o preconceito e atos maldosos em função do gênero (SENA et al., 2020).
Assim, o bullying pode ser estudado com o recorte de gênero, em outras linhas, pela perspectiva hegemônica de masculinidade e desigualdade entre os sexos. Portanto, mesmo com a legislação protetiva da mulher (BRASIL, 2006) ainda se faz necessário trabalhar o bullying de gênero com maior eficácia social. No mesmo sentido:
[…] Nas teias dessas questões de gênero, as participantes expressam sentidos múltiplos, que se distanciam dos apontamentos e movimentos que vêm sendo feitos pela literatura ao classificar as formas como homens ou mulheres praticam, ou mesmo quando vítimas reagem ao bullying. Podemos identificar que as agressoras não utilizavam apenas de artifícios e condutas, relacionadas a estereótipos femininos para atingir suas vítimas. (MEURER, 2010, p. 3).
Uma das ferramentas que pode ser utilizada é justamente a implementação de projetos multidisciplinares nas escolas com o fito de demonstrar os malefícios da violência e estimular a boa convivência interpessoal. Desse modo, a instituição escolar contaria não apenas com coordenação, direção e professores, mas com psicólogos, advogados, assistentes sociais e demais agentes que possam trabalhar em conjunto com a escola (FANTE, 2018).
O bullying de gênero perpassa a infância e a adolescência até a vida adulta. Nesse caso, quando os homens constituem suas famílias, a tendência é replicar os ensinamentos adquiridos em sua casa e na escola. Logo, uma pessoa que conta com a infância e a adolescência eivadas por violência, poderá repetir esses atos em uma vida adulta (FANTE, 2018).
Surge, assim, a figura da violência contra a mulher desde os primeiros anos de vida da pessoa e o triste reflexo ocorre dentro dos lares, local em que a violência contra a mulher é exercida covardemente em uma luta de gêneros (FANTE, 2018). O bullying de gênero é considerado também um problema da saúde pública, pois gera gastos para o Estado. Suscita-se então um questionamento: como cada pessoa pode trabalhar no combate a essa violência?
O combate a qualquer tipo de violência deve ser exercitado por cada pessoa e por mais que cada gesto possa parecer simples, ele deve ser praticado. O planejamento de políticas públicas com foco na erradicação ou na prevenção de violência contra a mulher deve ser pensado não apenas pela agenda de governo federal, mas pelas demais também. Outra saída cabível é a implementação de projetos nas escolas por meio de parcerias com o poder judiciário, principalmente nas varas que trabalham com crianças e adolescentes, pois elas contam com equipe com psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais que possam auxiliar (SCHRAIBER, 2005).
Desse modo, percebe-se que a violência contra a mulher está longe de entrar no plano de extinção, por isso, cada pessoa precisa agir dia após dia para combater essa mazela social (SCHRAIBER, 2005). As mulheres não são menores do que os homens, essa comparação não existe no campo pessoal, tampouco jurídico. Está-se diante de pessoas que tiveram a juventude e sonhos furtados, outras que vivem em verdadeiros cativeiros em busca de uma relação afetiva perfeita.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A violência contra a mulher, independente da modalidade, está enraizada na sociedade. No entanto, não se pode permitir que ela continue ou aumente com o passar do tempo.
O direito à liberdade é fundamental para todos os seres vivos e possui previsão na Constituição Federal de 1988, em tratados e convenções internacionais. Porém, mesmo com toda a previsão de liberdade e não violência, ainda muitas pessoas excluem as outras e realizam atos de maldade.
O bullying não faz apenas vítimas, mas pessoas que podem inclusive ceifar a própria vida. O motivo? O fato de não sentirem mais a proteção, liberdade e respeito em uma sociedade marcada pelo machismo.
É preciso mudar. Percebe-se que a participação na presente obra coletiva é uma das oportunidades de pôr me evidência esse direito. A luta não pode ser de uma pessoa ou de um grupo, pois se faz necessário unir formas de lutar por uma causa fundamental e nobre, ou seja, o respeito pela vida humana e pela dignidade.
Dessa maneira, cabe a cada cidadão agir quando diante de qualquer situação de violência contra a mulher, fazendo a denúncia pelo telefone: 180, pois ser vítima de violência não é um direito e sim uma violação dele.
Referências
____________________
1. BRASIL. Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Dispõe sobre o Código Penal. Disponível em: https://bit.ly/3X6d3Bk. Acesso em: 27 jun. 2021.
2. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: https://bit.ly/3ke6Zs6. Acesso em: 27 jun. 2021.
3. BRASIL. Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Disponível em: https://bit.ly/3QFaUKy. Acesso em: 27 jun. 2021.
4. FANTE, Cléo; PRUDENTE, Neemias Moretti. Bullying em debate. Editora Paulinas, 2018.
5. GRILLO, Francis Keila Fernanda Nanci. BULLYING FEMININO: Anotações preliminares em uma escola da rede pública. 2013. Dissertação (Mestrado em Promoção em Saúde) – Programa De Mestrado Em Promoção Da Saúde, UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá, Paraná, 2013.
6. GROSSI, Miriam Pillar. Identidade de Gênero e sexualidade. Antropologia em Primeira Mão, Florianópolis, p.1-18, 1998.
7. KRONBAUER, José Fernando Dresch; MENEGHEL, Stela Nazareth. Perfil da violência de gênero perpetrada por companheiro. Revista de Saúde Pública, v. 39, p. 695-701, 2005.
8. MACEDO, Aldenora Conceição de. Gênero, raça e feminicídios: uma análise das construções sociais e suas implicações na violência doméstica contra a mulher. 2014. Monografia (Especialização em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça) – Universidade de Brasília, Brasília, 2014.
9. MACHADO, Carla; GONÇALVES, Rui Abrunhosa. Violência e vítimas de crimes. Coimbra: Quarteto, v. 2019, p. 23, 2003.
10. MENEGHEL, Stela Nazareth et al. Repercussões da Lei Maria da Penha no enfrentamento da violência de gênero. Ciência & Saúde Coletiva, v. 18, p. 691-700, 2013.
11. MEURER, Bruna. Mulher, bullying e trabalho: desvelando desigualdades de gênero. 2010. Disponível em: https://bit.ly/3H3Egir. Acesso em: 27 jun. 2021.
12. POUGY, Lilia Guimarães. Desafios políticos em tempos de Lei Maria da Penha. Revista Katálysis, v. 13, n. 1, p. 76-85, 2010.
13. SAFFIOTI, Heleieth IB. Contribuições feministas para o estudo da violência de gênero. Cadernos Pagu, n. 16, p. 115-136, 2001.
14. SCHRAIBER, Lilia Blima. Violência dói e não é direito: a violência contra a mulher, a saúde e os direitos humanos. Unesp, 2005.
15. SENA, Michel Canuto et al. Mediação de conflito escolar como ferramenta de prevenção ao bullying: ação em saúde pública. Multitemas, p. 45-69, 2020.
16. SILVA, Sergio Gomes. Preconceito e discriminação: as bases da violência contra a mulher. Psicologia: ciência e profissão, v. 30, n. 3, p. 556-571, 2010.