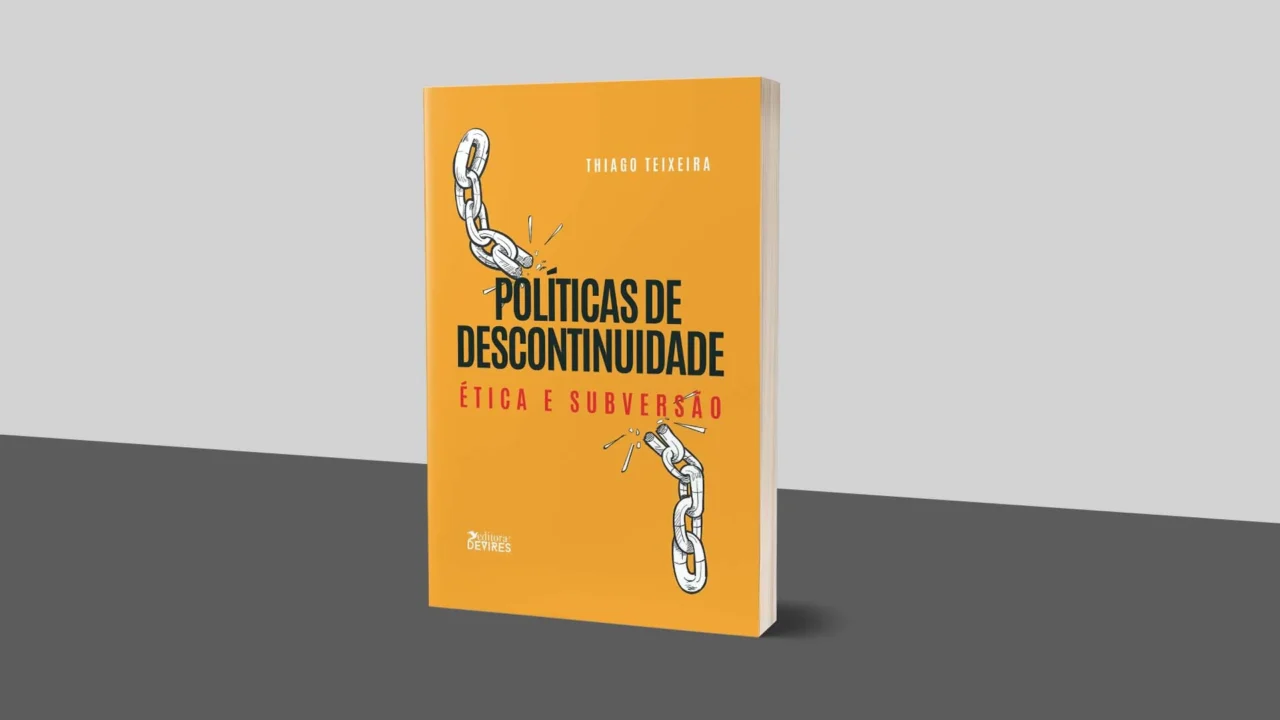Para responder essa pergunta é preciso levar em consideração não apenas os aspectos constitucionais, mas também questões históricas e políticas.
A Constituição Federal de 1988 possui um capítulo específico para tratar das “Forças Armadas”. No artigo 142, estabelece que as Forças Armadas brasileira são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, classificando-as como instituições nacionais, permanentes e regulares. Estabelece, ainda, que são organizadas com base na hierarquia e na disciplina.
Podemos considerar como finalidade precípua das Forças Armadas a defesa da Pátria. Por defesa da Pátria, entende-se o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, potenciais ou manifestas. Além da defesa da Pátria, também é função primária das Forças Armadas a defesa dos Poderes Constituídos: Executivo, Legislativo e Judiciário. Ou seja, cabe às Forças Armadas intervir contra manifestações de qualquer natureza que atentem contra a existência e independência de quaisquer dos Poderes e contra a harmonia entre eles.
No entanto, as Forças Armadas não tem independência e autonomia para agirem quando e como bem entenderem. Pelo contrário, as Forças Armadas estão sob autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos Poderes Constituídos (Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário), e por iniciativa de quaisquer destes Poderes, à garantia da lei e da ordem. Isso significa que as Forças Armadas são integralmente subordinadas ao Poder Civil, isto é, o seu emprego para a garantia dos Poderes Constituídos, ou qualquer outra de suas finalidades, depende sempre de decisão do Presidente da República que a adota por iniciativa própria ou a pedido dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
Ademais, enquanto função secundária, as Forças Armadas também podem ser mobilizadas para missões de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). A Lei Complementar nº. 97/1999, estabelece que o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem ocorrerá de acordo com diretrizes fixadas em ato do Presidente da República, após esgotados os instrumentos tradicionalmente destinados à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados no artigo 144 da Constituição Federal de 1988, que trata da Segurança Pública e das Forças Policiais.
Isso acontece em situações em que consideram-se esgotados os instrumentos tradicionais de segurança pública, ou seja, é preciso que o Chefe do Poder Executivo Federal (Presidente da República) e Estadual (Governador) reconheçam formalmente que as Forças Policiais encontram-se “indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular de sua missão constitucional”. Apenas nesta excepcionalidade que as Forças Armadas deveriam ser empregadas para fins de garantia da lei e da ordem. Um exemplo disso foi a intervenção militar nas favelas do Rio de Janeiro ocorrida no ano de 2018, quando por ato do então Presidente Michel Temer houve o reconhecimento do esgotamento dos instrumentos tradicionais da Segurança Pública no Rio de Janeiro.
Outro exemplo de atuação secundária das Forças Armadas em tempos de paz é o seu emprego no enfrentamento de grandes desastres naturais, como as fortes chuvas que assolaram a região serrana do Rio de Janeiro no início de 2011, quando a Marinha e o Exército brasileiros prestaram apoio com hospitais de campanha e transporte aéreo das forças de segurança e do corpo de bombeiros. Por fim, as Forças Armadas são frequentemente acionadas para apoiar atividades de diversos órgãos públicos na região amazônica, devido à dificuldade de acesso e aos riscos enfrentados. Embora estas sejam funções consideradas secundárias, elas acabam sendo o cenário mais comum de emprego operacional das Forças Armadas, visto que o Brasil é um país predominantemente voltado à Paz.
É importante frisar que o emprego das Forças Armadas para Garantia da Lei e da Ordem não é a mesma coisa que uma Intervenção Federal. O artigo 34 da Constituição Federal prevê a possibilidade do Presidente da República decretar uma Intervenção Federal com objetivo de “pôr termo a grave comprometimento da ordem pública”. Diante dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro em Brasília, com destruição do patrimônio público nas sedes dos três poderes, foi decretada pelo presidente Lula uma Intervenção Federal no âmbito do Distrito Federal. Esta medida teve efeito imediato, mas precisou passar por ratificação do Congresso Nacional, o que aconteceu nos dias 9, com aprovação pela Câmara dos Deputados, e no dia 10, com aprovação pelo Senado. Também é preciso destacar que esta Intervenção está acontecendo com principalmente com emprego da Força Nacional de Segurança, a qual é composta por integrantes das Forças Policiais de outros Estados.
Mas se a Constituição de 88 subordinou as Forças Armadas ao poder civil e estabeleceu limites à sua atuação, por que ainda nos perguntamos se elas representam uma ameaça à democracia? Para compreender este debate, é preciso considerar também questões históricas e políticas.
É preciso reconhecer que, historicamente, as Forças Armadas brasileiras sempre tiveram forte atuação política. Devemos lembrar que a Proclamação da República, em 1889, foi encabeçada pelas Forças Armadas e que os dois primeiros Presidentes foram Marechais do Exército. Posteriormente, durante a década de 1920, tivemos o Tenentismo, um movimento político-militar de jovens oficiais de baixa e média patente, que organizaram diversas rebeliões para explicitar sua insatisfação com o governo oligárquico. O apoio dos militares também foi crucial tanto para o sucesso da Revolução de 1930, quanto para o fim do Estado Novo em 1945. O breve período democrático inaugurado em 1946 começou com um general sendo eleito presidente e terminou com o Golpe de Estado protagonizado pelas Forças Armadas em 1964, que instauraram uma brutal ditadura militar que durou 21 anos. Por fim, devemos destacar a doutrina da “abertura lenta, gradual e segura”, através da qual o regime militar condicionou o processo de transição para a democracia, preservando grande nível de poder e influência, além de garantir a impunidade pelos crimes cometidos durante a ditadura, através da Lei da Anistia, de 1979.
Este último aspecto diferencia o Brasil de outros países latino-americanos que passaram por ditaduras militares na segunda metade do Século XX. Na Argentina, por exemplo, houve um processo amplo e imediato de denúncia dos crimes cometidos pelos militares, os quais acabaram desacreditados enquanto atores políticos relevantes. Já no Brasil, a Comissão Nacional da Verdade, responsável por apurar graves violações de Direitos Humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988, só foi criada em 2011, 26 anos após o fim do regime militar. E, apesar das contundentes revelações, dentre as quais destaca-se 434 pessoas mortas pelo regime militar, o Relatório Final teve repercussão midiática e social bastante limitada. Por outro lado, a legitimidade da Comissão foi questionada por diversas instituições e pessoas ligadas às Forças Armadas, inclusive oficiais da ativa. Ademais, não houve um processo de revisão crítica por atores civis e externos sobre as doutrinas e práticas lecionadas pelas academias e escolas responsáveis pela formação e aperfeiçoamento dos integrantes das Formas Armadas. Como consequência destes processos históricos, as Forças Armadas brasileiras mantiveram uma proeminência política mais forte no Brasil do que na maioria dos países democráticos.
Com isso, segundo o professor Chris Thornhill, da Universidade de Manchester, na Inglaterra, especialista em Sociologia do Direito e Direito Constitucional Comparado, observa-se no Brasil o crescimento de dois fenômenos preocupantes. O primeiro é a militarização vertical, que ocorre quando as unidades militares regulares se envolvem na política. Este fenômeno atingiu o auge durante na presidência de Jair Bolsonaro, quando um enorme contingente de militares foi alocado na Administração Pública Federal para exercer desde funções estratégicas, como Ministro de Estado, até funções operacionais, em diversos órgãos públicos. O segundo é a militarização civil, que ocorre quando se vê um conflito crescente entre diferentes grupos sociais. De fato, desde 2013, observa-se no Brasil um agravamento da polarização política, inclusive com segmentos da sociedade demandando a volta da ditadura militar. Pode-se argumentar que este fenômeno alcançou seu auge nos eventos do último dia 8 de janeiro.
Os fenômenos observados pelo professor Thornhill não são exclusivos do Brasil, mas sim parte de um processo de enfraquecimento constitucional observado em um conjunto de governos de diferentes regiões do mundo. A hostilidade seletiva em relação às normas de direito internacional, especialmente àquelas relacionadas aos Direitos Humanos, bem como o ataque às instituições judiciais, são algumas das maneiras através das quais se manifesta esse processo de enfraquecimento constitucional. Todavia, o Brasil apresenta duas particularidades. A primeira é que a polarização política da sociedade se expressou, durante o governo Bolsonaro, na presença reforçada dos militares na parte executiva do governo, inclusive com a capacidade de institucionalizar a hostilidade às normas de direito internacional por meio de decisões e ações governamentais. A segunda é que as instituições judiciárias vêm se tornando cada vez mais ativistas. Como resultado, nos últimos anos observou-se o constante atrito entre estas forças, Forças Armadas de um lado, Poder Judiciário de outro.
Em suma, no Brasil, os militares mantiveram um lugar de proeminência política que não deveriam ter. Isso, somado à polarização intratável dos grupos sociais, trás riscos à democracia. Desta forma, é preciso trabalhar de maneira incansável para garantir a lealdade das Forças Armadas ao seu papel constitucional de defender o estado Brasileiro e não colaborar com o processo de minar as bases institucionais da nossa jovem e fragilizada democracia.