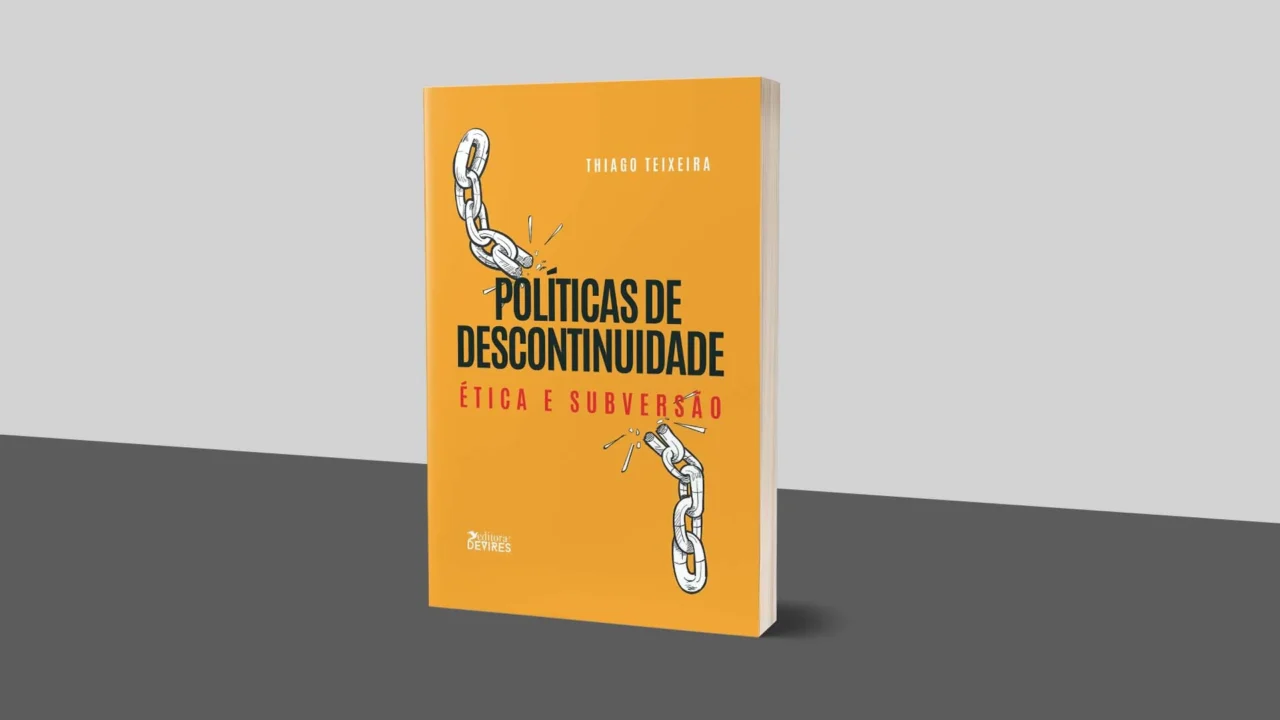Todos nós, profissionais que atuamos no Direito de Família, enfrentamos diuturnamente a desafiadora dificuldade no exercício do direito de convivência entre ascendente e filho incapaz mediante a indispensabilidade, de modo absolutamente legítimo, de respeito e coerência daquele com medida protetiva de urgência deferida em benefício da mulher, vítima de violência doméstica e familiar.
A questão não é nova, mas ganha contornos de invisibilização, o que evidentemente não concorre para elucidação e redimensionamento das dinâmicas familiares e parentais.
Por um lado, a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) ostenta disciplina normativa específica, tendo por premissa o reconhecimento de que a violência contra a mulher consubstancia grave violação de direitos humanos. Mais do que reprimir, a legislação tem escopo protetivo, educativo e programático, ao passo que o quadro de diferença de poderes entre gêneros no corpo social, com caracteres patriarcais cristalizados em sua cultura, reclama implementação de políticas públicas para efetivação dos direitos das mulheres.
Isso significa dizer que os elementos a serem aferidos para o deferimento de medida protetiva não podem partir da suposição de paridade absoluta entre indigitada vítima e seu agressor. A palavra da vítima ostenta relevância probatória- como já patenteou o STJ – justamente por se tratar de violência de gênero, perpetradas agressões de múltiplas espécies em desfavor de mulheres em relações entabuladas no âmbito da unidade doméstica, com ou sem vínculo familiar, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto em que haja convivência, independente de coabitação.
De ver-se que, pela peculiar intimidade de relacionamentos ou conjunturas nos quais eclode a violência doméstica e familiar, a agressão comumente se efetiva à revelia do conhecimento de terceiros, os quais poderiam eventualmente figurar como testemunhas. Isso sem se cogitar na verdadeira indisposição das pessoas não componentes do cerne do núcleo familiar em se imiscuírem na vida particular alheia.
Logo, inexiste qualquer anomalia ou contradição da Lei Maria da Penha com os ditames da Carta Magna- como já se manifestou o STF[1]– com princípios gerais de direito ou diversos, inclusive processuais.
Sob outro prisma, o fenômeno da alienação parental, o qual não ostenta raiz ideológica nem é fruto de criação autoral, existe em termos empíricos, independentemente da denominação jurídica de sua configuração (sob a vigência de Lei Especial ou dos dispositivos constitucionais e da legislação de cunho ordinário).
A circunstância de uma mulher ser vítima de violência doméstica e familiar não representa sinônimo de incapacidade parental do pai para o exercício de convivência, da mesma forma que o reconhecimento do fenômeno da alienação parental pode se efetivar sem que a genitora haja sido vítima de violência doméstica e familiar. Não é demasiado consignar que o direito não se compraz com regras absolutas pré-concebidas, inclusive ao arrepio da apreciação adequada das circunstâncias do caso concreto, nem se compatibiliza com tabus ou estigmas graciosos, quaisquer que sejam eles.
Não obstante a veracidade de tais ponderações, a disciplina jurídica de relações humanas, com enfoque em seus efeitos e múnus na seara do Direito de Família, ao envolver filhos incapazes, não deve se consumar ao arrepio da prévia aferição do panorama não abstrato da violência doméstica e familiar, quando presente, sob pena de incorrer-se em prática de violência institucional. De modo similar, já se manifestou o TJ/DFT:
Na regulamentação de visitas ao filho comum das partes, deve-se perquirir o direito ao pleno desenvolvimento físico, emocional e psicológico do menor, garantindo-lhe proteção integral, em observância ao princípio do melhor interesse da criança. 2. Para que sejam obedecidas as medidas protetivas fixadas em benefício da mãe da criança, em consonância com as normas previstas na Lei n.º 11.340/2006 – Maria da Penha, é necessário que o regime de visitas seja detalhado, com o objetivo de conciliar os interesses do menor com os da ofendida, evitando-se o contato entre esta e o agressor.”
Acórdão 1172748, 0728880-14.2018.8.07.0016, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2019, publicado no DJe: 27/05/2019.(grifos nossos).
Por seu turno, o Conselho Nacional de Justiça vem conduzindo pesquisa para avaliação da efetividade de medidas protetivas em casos de violência doméstica e familiar com foco na atuação das Varas de Família, de modo congruente com a Recomendação CNJ 102/2021 cujo escopo é aprimoramento da atuação do Poder Judiciário no combate da violência doméstica e familiar contra vítimas do gênero feminino1. Atente-se ao fato que a Recomendação CNJ 102/2021 versou sobre a adoção do protocolo integrado de prevenção e medidas de segurança voltado ao enfrentamento à violência doméstica praticada contra magistradas e servidoras2.
Pois bem. Se inexistem dúvidas sobre a inter-relação das dinâmicas afetivas – cogitamos em uma família, ainda que desagregada tendo em mente sua formatação original -tem-se como bastante clara a circunstância de que a imposição de medida protetiva na esfera da Justiça Especializada da Violência Doméstica deverá ser considerada pelo juízo de Família no momento de eventualmente disciplinar forma de convivência entre indigitado agressor e filho menor, caso a caso, com cautela e ponderação de todos os elementos que sejam noticiados nos autos.
Há de se ressalvar a Lei 14.713/23 que alterou a redação do parágrafo segundo do artigo 1584 do CC/02 para estabelecer que não será aplicada guarda compartilhada quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar, considerando-se a hipótese de guarda provisória.
A Lei 11.340/06, em seu artigo 19, parágrafo quarto, dispõe que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em prol da ofendida, com avaliação da inexistência de riscos também aos seus dependentes. O artigo 22, inciso IV do mesmo diploma legal elenca a medida de proteção de urgência de restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar.
Logo, tanto é flagrante o imbricamento entre o tema violência doméstica e familiar contra a mãe de filho incapaz e o convívio deste com o indigitado agressor, que a própria Lei Maria da Penha preconiza a possibilidade de suspensão de aludido convívio, após análise técnica.
Indubitável, pois, o fato de que o juízo de família necessita efetuar análise da conjuntura de violência doméstica e familiar para, então, deliberar sobre convivência parental do suposto agressor com o filho menor ou relativamente incapaz.
Como é cediço, serviços técnicos nos Juizados de Violência Doméstica e Varas em geral ostentam carga exacerbada de trabalho pelo excesso de volume de serviço, com eventual acúmulo de atribuições, especialmente nas maiores capitais do país. Por conseguinte, depender de parecer técnico para disciplina de convivência ou guarda mostra-se, no mais das vezes, impraticável pela morosidade e iminência de danos de difícil reparação em desfavor das partes, especialmente as incapazes.
O que se conclui é que a problemática não reside na medida protetiva em si. Nem no fenômeno da alienação parental, que pode ou não se configurar no plano não abstrato. Mas na indispensabilidade de cada litígio, cada dinâmica relacional, receberem atenção e análise detidamente, com consideração do relato das partes e de todos os dados disponíveis em juízo, incluindo a denominada prova emprestada.
Nesse passo, convém mencionar pesquisa realizada em 2015 junto a Vara Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Luís, com 35 usuárias dos serviços disponibilizados 3, a qual, dentre os diversos aspectos que abordou , citou o posicionamento de vítima “considerando a necessidade de extensão da medida protetiva aos filhos, como vítimas indiretas da violência, por utilizar o agressor por vezes a prole para continuar a perpetrar violência psicológica”(a denominada violência vicária).
Ainda que os dados sopesados na pesquisa não sejam atuais, nem haja expressividade no volume daqueles, o que apreendemos da realidade é que a vítima de violência doméstica, de modo natural e constante, detém o sentimento de repulsa à figura do agressor.
Ocorre que o artigo 227, “caput” da Constituição Federal elenca como direito fundamental da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária, preservados de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
Por conseguinte, em se tratando de direito basilar do incapaz o de conviver com seus ascendentes, a sistemática somente não deverá se verificar quando for contrária ao princípio do melhor interesse do incapaz.
A aferição da observância desse interesse não deve, contudo, se efetivar de modo cabal e cogente pela parte vitimizada – ou que assim se considere, na hipótese de infundada imputação de violência doméstica – porque, de modo bastante explícito, não apresenta distanciamento e isenção de ânimo a tal desiderato.
O acatamento ao princípio do contraditório, do princípio da ampla defesa e a essencial assistência das partes por seus patronos sempre consubstanciarão a fórmula procedimental mais equânime e equilibrada para deliberação, pelo poder judiciário, acerca das questões afetas à prole, especialmente em casos de violência doméstica e familiar, de gravidade e relevância irrefutáveis.
Referências
____________________
1. www.noticias.stf.jus.br, “Marco histórico na defesa das mulheres brasileiras, Lei Maria da penha completa 18 anos”, 29/07/2024, consoante julgamento de Ação Declaratória de Constitucionalidade 19, em fevereiro de 2012 e Ação Direta de Inconstitucionalidade 4424, julgada em 2012, acessado em 30/06/2025.
2. www.tjpi.jus.br, Brito, Rafael, “CNJ prorroga prazo de pesquisa contra violência doméstica de mulheres que atuam no Judiciário”, postado em 25 de abril de 2025, acessado em 30/06/2025;
3. www.atos.cnj.jus.br, Recomendação 102/2021, acessado em 30/06/2025;
4. CHAI, Cássius Guimarães, Santos, Jéssica Pereira dos, Chaves, Denisson Gonçalves, “Violência Institucional Contra a Mulher: O Poder Judiciário, de Pretenso Protetor a Efetivo Agressor”, Revista Eletrônica do Curso de Direito, v. 13, n. 2/2018, p. 640-665.