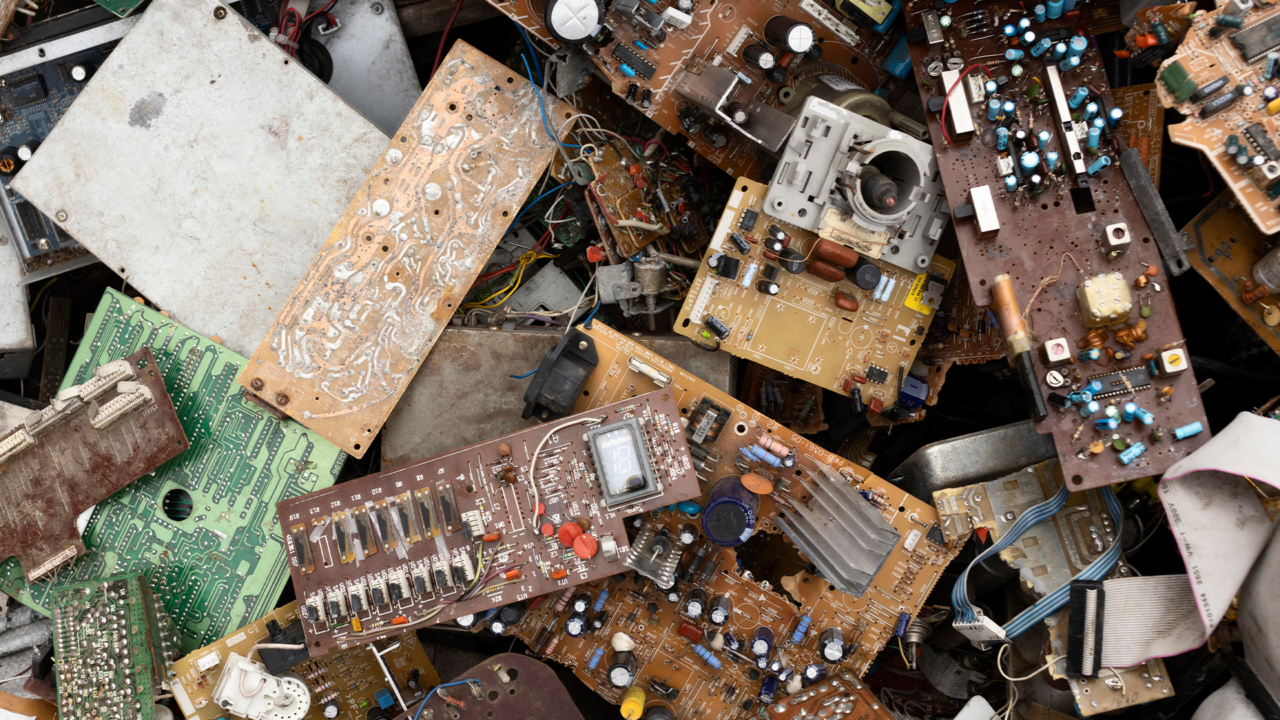A realidade da concentração de terras no Brasil foi iniciada em conjunto com a colonização do país. A primeira divisão territorial em solo brasileiro se deu com as Capitanias Hereditárias. Correspondentes a 14 faixas de terras que abarcavam toda a extensão da América Portuguesa, determinada conforme o Tratado de Tordesilhas
Estas, por sua vez, administradas por terceiros particulares, mas pertencentes à Coroa Portuguesa, passaram a ser subdivididas nas chamadas sesmarias. Grandes sortes de terras improdutivas que eram doadas de “papel passado” a pequenos nobres e comerciantes que possuíam meios financeiros de explorar o local. O objetivo da implementação destas sesmarias era o de estimular a ocupação e produção agrícola nas terras, gerando, consequentemente, ganhos financeiros para seus senhores e para Portugal.
A partir deste ponto, com o avanço da colonização, aumento das produções agrícolas de monoculturas, conflitos com as populações indígenas e intenso fluxo escravagista, os senhores de terras estabeleceram seus domínios e influências políticas na gestão das antigas Capitanias. Por outro lado, considerando toda a extensão territorial do Brasil a proteção e administração destas áreas era completamente ineficaz. Sobretudo longe das costas, adentrando o interior do Brasil. O que ocasionou na ocupação irregular de pequenas áreas por camponeses. Os quais estabeleciam ali pequenas moradias e plantações de subsistência.
E assim tal situação se manteve por muito tempo. Mesmo após a independência do Brasil, a regulamentação das terras não foi planejada de imediato. Os latifúndios iniciados com a colonização se fizeram numerosos e deram poder aos seus senhores. O que não significa que a paz reinava sobre as questões fundiárias do país. A dificuldade em se demarcar as terras e o grande número de ocupações irregulares, tanto por grandes fazendeiros, como por pequenas famílias de camponeses, geravam insegurança jurídica e fomentavam conflitos, por muitas vezes violentos.
Contudo, em 1850, quando o reinado de Dom Pedro II já caminhava para o seu fim, a chamada Lei de Terras foi finalmente aprovada pelo Congresso Nacional. Aqui, cabe destacar, que a maioria dos parlamentares desta época eram grandes senhores de terras e escravos. Neste sentido, conforme pontua Silva (2015, pág. 89), “a Lei foi elaborada e executada por um grupo de pessoas que estava muito diretamente vinculado ao problema da terra e sua ocupação, constituído por fazendeiros, sesmeiros e grandes posseiros, tradicionalmente identificados como senhores e possuidores de extensas áreas. ”1
Diante deste fato, a Lei foi promulgada com a intenção de garantir que tais senhores e possuidores conseguissem maior facilidade e acesso à terra, enquanto a grande camada pobre da população não tivesse alternativa a não ser a de dispor sua força de trabalho aos latifundiários em troca de condições de subsistência. Isto fica explícito quando se observa os dispositivos contidos na citada Lei. Como por exemplo a determinação de que novas aquisições de terras devolutas somente seria possível por meio de títulos de compra e também a obrigatoriedade de que todos posseiros demarcassem suas terras em prazos determinados e obtivessem títulos de propriedade junto ao sistema registral da época, obviamente, arcando com o pagamento dos profissionais responsáveis pela medição e também das taxas e emolumentos públicos determinados na Lei
E como consequência de tais determinações, apenas aqueles que detinham de poder financeiro elevado foram capazes de arcar com todos os custos envolvidos. O que reafirmou o monopólio dos latifúndios sobre o acesso à terra. Situação que perdura até os dias atuais.
Por fim, outro ponto de destaque da Lei, como bem pontua Silva (2015) é o de que a partir do citado diploma legal foi incorporada à terra sua natureza de propriedade/mercadoria. Unificando todas as outras concepções nesta única, estabelecendo que o único vínculo aceitável seria aquele regulado pelo mercado.2 Fazendo com que todos os grupos que tratassem da terra sobre outro viés fossem deslegitimados e violentados.
____________________
Referências
________________________________________
1. SILVA, Márcio Antônio Both. Lei de Terras de 1850: lições sobre os efeitos e os resultados de não se condenar “uma quinta parte da atual população agrícola”. Revista Brasileira de História, São Paulo-SP, v 35, nº 70, p 87-107, set., 2015.
2. SILVA, Márcio Antônio Both. Lei de Terras de 1850: lições sobre os efeitos e os resultados de não se condenar “uma quinta parte da atual população agrícola”. Revista Brasileira de História, São Paulo-SP, v 35, nº 70, p 87-107, set., 2015.