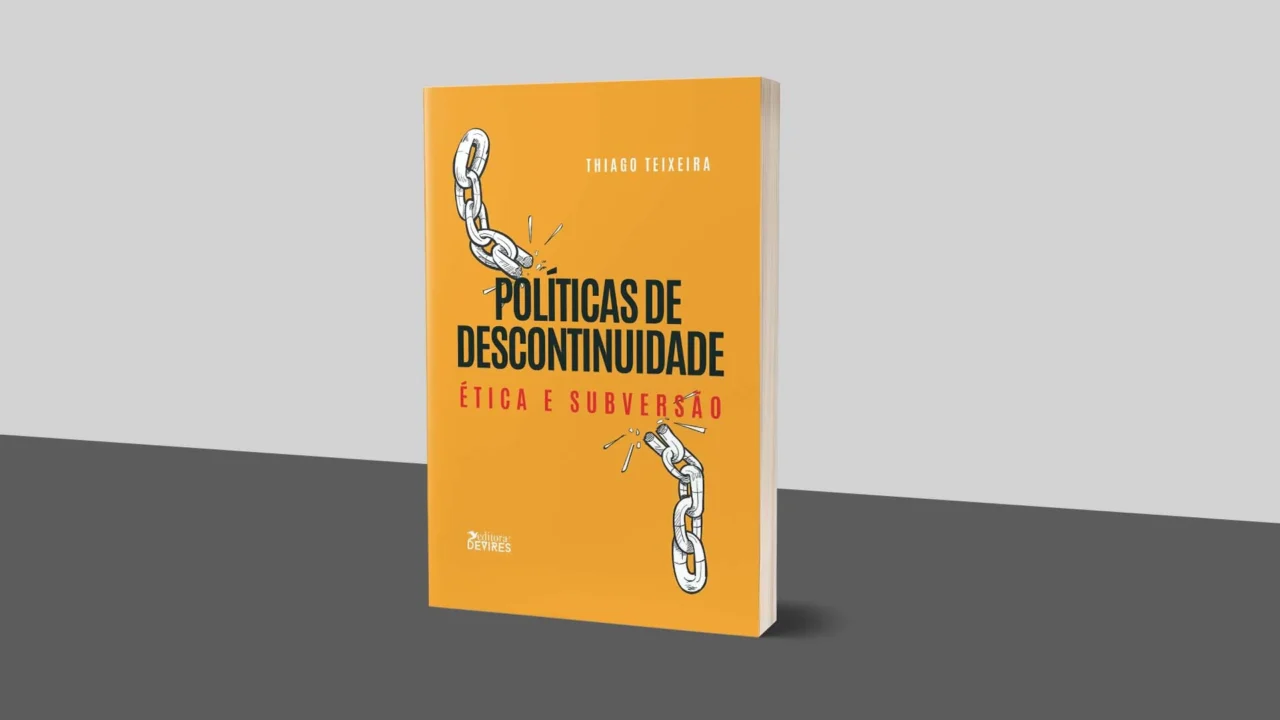Apesar de supostamente independentes, os países latino-americanos continuam subordinados a um modelo de poder que reproduz a hierarquia racial e econômica da época da colônia. Como resquícios desta colonização forçada no Brasil e América-Latina, os saberes locais foram e são marginalizados, fato que cinde a identidade nacional marcada por um imaginário colonizado pelo racismo europeu.1 Neste sentido é perceptível, como um resquício colonial, que a dominação patriarcal se manifesta em diferentes formas de poder, seja sobre o corpo feminino branco seja sobre o corpo feminino preto.
Para Lugones, além de raça, o conceito “moderno-colonial” de gênero – no sentido de aquilo que qualifica e identifica a diferença sexual – também teria sido introduzido nos países latino-americanos como forma de dominar e controlar o trabalho e os corpos. Homens e mulheres não europeus, indígenas e africanos, eram considerados “diferentes” – leia-se inferiores –, porque não seguiam as mesmas regras de socialização e convivência das sociedades coloniais. Além disso, não eram cristãos. Assim, foi-se construindo a narrativa segundo a qual os povos não europeus, isto é, no caso latino-americano, os povos originários e os africanos da diáspora, viviam como selvagens, próximos à animalidade, e que por isso a cultura e a religião europeias deveriam salvá-los, humanizando-o.2
Pensando neste contexto, o feminismo surge como um movimento de libertação das mulheres desta opressão patriarcal. Mas é preciso analisar quais mulheres são incluídas nos discursos deste movimento e se existe uma identidade universal destas mulheres. Nem todas as mulheres sofrem da mesma forma diante do patriarcado, algumas também usufruem das benesses dele.3
O conceito universal de “mulher” serviu para ocultar outras formas de opressão, como a de raça e a de classe. Ainda, o conceito de interseccionalidade, nascido no bojo do feminismo negro, conseguiu dar expressão e visibilidade à opressão de raça, classe, sexualidade e gênero vividas pelas mulheres negras e pelas mulheres não brancas.4–5
Para que a mulher negra e a mulher não branca possam ser elas mesmas representantes de suas pautas e reivindicações, é necessário que lhes seja reconhecido o lugar de sujeito, e que suas experiências sejam parte dos estudos feministas, estes estudos se diferem em seus objetivo.6 O feminismo envolve muito mais do que a igualdade de gênero, envolve muito mais do que o gênero, lembra Angela Davis. Ele também ultrapassa a categoria “mulheres”, fundada sobre um determinismo biológico, e atribui novamente à noção de direitos das mulheres uma dimensão política radical: levar em conta os desafios impostos a uma humanidade ameaçada de desaparecer, nós, mulheres e não brancas, somos convocadas, definidas e classificadas por um sistema ideológico de dominação que nos infantiliza.7
Apesar de suas contribuições fundamentais para a discussão da discriminação com base na orientação sexual, o mesmo não ocorreu diante de outro tipo de discriminação, tão grave quanto a sofrida pela mulher a discriminação racial.8
Mas o que geralmente encontramos ao ler os textos e a prática feminista são referências formais que denotam um tipo de esquecimento da questão racial. Vamos dar um exemplo da definição de feminismo: ela se baseia na “resistência das mulheres em aceitar papéis, situações sociais, econômicas, políticas, ideológicas e características psicológicas baseadas na existência de uma hierarquia entre homens e mulheres, a partir da qual a mulher é discriminada”. Seria suficiente substituir os termos “homens e mulheres” por “brancos e negros” (ou indígenas), respectivamente, para se ter uma excelente definição de racismo.9
É necessário compreender que existe um “esquecimento” por parte do feminismo branco nas pautas raciais. Seria talvez uma forma de expressão do racismo por omissão e cujas raízes, dizemos, estão em uma visão de mundo eurocêntrica e neocolonialista. Constantemente silenciada, a dimensão racial desempenhou um importante papel ideológico nas lutas da Reconquista.10
Existe ainda, por parte de muitas feministas brancas, uma resistência muito grande em perceber que, apesar do gênero nos unir, há outras especificidades que nos separam e afastam. Enquanto feministas brancas tratarem a questão racial como birra e disputa, em vez de reconhecer seus privilégios, o movimento não vai avançar, só reproduzir as velhas e conhecidas lógicas de opressão. Em O segundo sexo, Beauvoir diz: “Se a ‘questão feminina’ é tão absurda é porque a arrogância masculina fez dela uma ‘querela’, e quando as pessoas querelam não raciocinam bem”. E eu atualizo isso para a questão das mulheres negras: se a questão das mulheres negras é tão absurda é porque a arrogância do feminismo branco fez dela uma querela, e quando as pessoas querelam não raciocinam bem.
Em obras sobre feminismo no Brasil é muito comum não encontrarmos nada falando sobre feminismo negro. Isso é sintomático. Para quem é esse feminismo então? É necessário entender de uma vez por todas que existem várias mulheres contidas nesse ser mulher e romper com a tentação da universalidade, que só exclui. Há grandes estudiosas e pensadoras brasileiras ou estrangeiras já publicadas por aqui, como Sueli Carneiro, Jurema Werneck, Núbia Moreira, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Luiza Bairros Cristiano Rodrigues, Audre Lorde, Patricia Hill Collins e bell hooks, que produziram e produzem grandes obras e reflexões. Nunca é tarde para começar a lê-las.11
situação da mulher negra é inegavelmente diferente da situação da mulher branca. Em uma perspectiva histórica mulheres brancas lutavam pelo direito ao voto e ao trabalho, mulheres negras lutavam para ser consideradas pessoas.12 Mas vem cá, o que quer dizer feminismo das “branca” e feminismo das “preta”? O feminismo em teoria não deveria corresponder por apenas uma determinada parcela das mulheres como aqui demonstrada as perspectivas do estudo do feminismo negro. É preciso que o feminismo branco atenda as demandas de isonomia, entretanto, destacar as raízes, diferenças e importância social do movimento feminista negro latino-americano. Como bem destaca Chimamanda Ngozi, a cultura não faz as pessoas. As pessoas fazem a cultura. Se uma humanidade inteira de mulheres não faz parte da nossa cultura, então temos que mudá-la,13 exaurindo a resistência de inclusão da pauta racial às pautas coletivas do feminismo.
____________________
Referências
________________________________________
1. DE CASTRO, Suzana. O que é o feminismo decolonial? Revista Cult #262 (Vários Autores). 2020. Disponível em: https://bit.ly/3DBUxpO. Acesso em: 08 dez. 2021.
2. LUGONES, 2014, apud DE CASTRO, Suzana. O que é o feminismo decolonial? Revista Cult #262 (Vários Autores). 2020. Disponível em: https://bit.ly/3DBUxpO. Acesso em: 08 dez. 2021.
3. O feminismo negro e o feminismo lésbico norte-americanos mostraram que a subjugação da mulher branca ao marido ou ao patrão não a impedia de participar do racismo institucional e estrutural que a favorecia por sua cor e/ou por sua sexualidade, e por isso a alçava a representante e porta-voz de todas as mulheres nos meios de comunicação de massa e nos meios acadêmicos. Nesse sentido, não podemos condenar o patriarcado como uma entidade abstrata que subordina todas as mulheres da mesma forma sem olharmos para as diversas outras formas de opressão, tais como a racial, sexual e a de classe. (DE CASTRO, Suzana. O que é o feminismo decolonial? Revista Cult #262 (Vários Autores). 2020. Disponível em: https://bit.ly/3DBUxpO. Acesso em: 08 dez. 2021).
4. Mulheres não-brancas são as pretas, amarelas, pardas e indígenas. Neste contexto principalmente as que não são trabalhadas no conceito de pretas e brancas.
5. DE CASTRO, Suzana. O que é o feminismo decolonial? Revista Cult #262 (Vários Autores). 2020. Disponível em: https://bit.ly/3DBUxpO. Acesso em: 08 dez. 2021.
6. Cito o exemplo da mulher branca feminista de classe média ou alta. A defesa de suas pautas não consideram a defesa das múltiplas jornadas das mulheres pretas que muitas vezes servem como empregadas domésticas e outras profissões que geram as mulheres pretas uma certa subordinação às mulheres brancas, levando em consideração a classe social de ambas.
7. DAVIS, 2013, sp apud RIOS et al, 2020, SP.
8. GONZALEZ, Lélia. Por um Feminismo Afro-Latino-Americano: Ensaios, Intervenções e Diálogos. Rio Janeiro: Zahar, 2020.
9. GONZALEZ, Lélia. Por um Feminismo Afro-Latino-Americano: Ensaios, Intervenções e Diálogos. Rio Janeiro: Zahar, 2020.
10. GONZALEZ, Lélia. Por um Feminismo Afro-Latino-Americano: Ensaios, Intervenções e Diálogos. Rio Janeiro: Zahar, 2020.
11. RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro? 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
12. RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro? 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
13. ADICHIE, Chimamanda Ngozi. Sejamos todos feministas. Companhia das Letras. Edição do Kindle, 2018, p. 17.
VERGÈS, Françoise. Um feminismo descolonial. Trad. de Jamille Pinheiro Dias e Raquel Camargo. São Paulo: Editora Ubu, 2020.