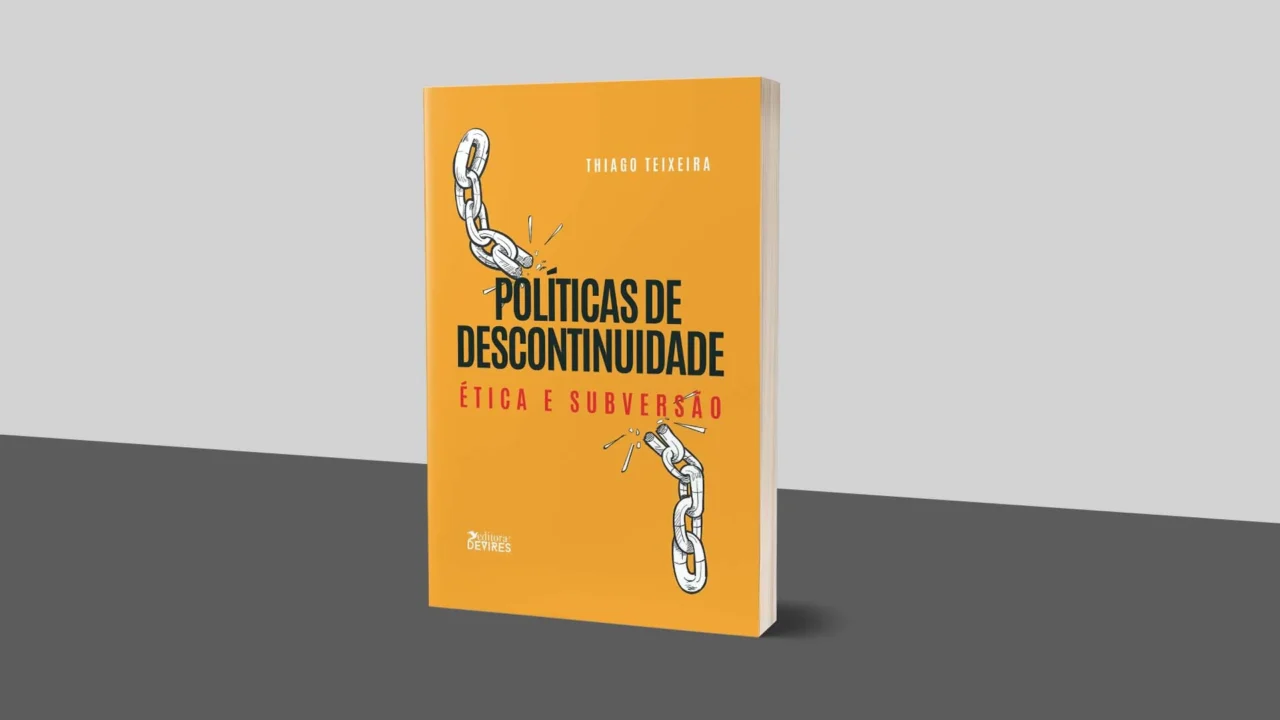O crime, baseado no conceito analítico tripartido, subdivide-se em fato típico, ilícito e culpável. O fato típico constitui-se pela união entre conduta, resultado, nexo causal e tipicidade stricto sensu. Todos esses componentes têm igual peso para a conformação do crime, mas, para o teor deste artigo, destacaremos a conduta e os seus elementos.
A conformação da conduta do modo como conhecemos hoje baseia-se na Teoria Finalista da Ação, formulada por Hans Welzel, que adicionou o elemento subjetivo à anterior Teoria da Causalidade. Sedo assim, a conduta atualmente se traduz em uma ação ou omissão, consciente e voluntária, destinada a um fim.
Em se tratando de subjetividade, olhar que é destinado ao direito nesta coluna, chamam atenção as expressões indefinidas “vontade” e “consciência”. A partir dessa interpretação, antes de concluir que uma ação aparentemente típica é criminosa, será preciso levar em consideração o que é vontade, o que é consciência, se o sujeito está consciente, se há exercício da vontade e para onde ela está direcionada.
Esse ponto do direito penal destacado é apenas um aspecto entre muitos em que o direito necessita de complementação externa. Não obstante, a ciência jurídica tende a buscar bases concretas e universalmente válidas para legitimar a criação de suas normas e conceitos. Isso não se deve apenas a sua herança positivista, mas também a uma necessidade prática de aplicação geral da norma para sua eficácia. Todavia, o campo das ciências humanas, como a filosofia e a psicologia, possui bases diversas e, até certo ponto, controversas, que contrariam a criação de leis gerais.
(…) em conceitos como norma, lei, imputabilidade, a jurisprudência tem composições psíquicas diante de si que exigem uma análise psicológica. É impossível para ela apresentar o contexto no qual surge o sentimento jurídico ou o contexto no qual finalidades se tornam eficazes no direito e as vontades são submetidas à lei, sem uma clara compreensão do nexo regular em toda vida psíquica.1
A própria psicologia, ou na denominação da autora Ana Bock,2 “psicologias”, possui inúmeras divisões e desmembramentos que estudam o sujeito por múltiplas abordagens. Diante desse cenário, o recurso da práxis jurídica para enfrentar esse obstáculo é a busca por conexão entre a teoria e o fato posta em prática pela aplicação da norma para o surgimento de conceitos elementares gerais. Ou seja, aquilo que chamamos de ciência social aplicada.
Ademais, no âmbito jurídico não existem amplas possibilidades para estudos científicos,3 pois não há como submeter as leis ao rigor do método cartesiano. Tudo que os operadores do direito podem utilizar são estudos científicos de outras áreas para argumentar e levantar proposições sobre aquilo que é o homem e como elaborar um ordenamento considerado justo. Entretanto, somente a práxis é capaz de demonstrar o quão certos (ou menos errados) estão acerca de algo.
Há um imaginário popular de como as coisas deveriam ser, principalmente em se tratando de direito penal. O senso comum costuma pensar em soluções simplistas para resolução de problemas, como o endurecimento da norma, aumento do contingente policial, criação de penitenciárias, enrijecimento dos julgamentos, etc. No entanto, quanto mais se conhece da constituição do direito e seus pormenores, mais se manifesta a complexidade do fenômeno.
(…) não raro, o funcionamento do Direito, ainda, é pensado e ensinado segundo um “tipo ideal” que pode ser assim simplificado: (a) “o legislador” procurar regular o comportamento em sociedade valorando condutas humanas por meio de normas jurídicas que edita; (b) a sociedade estaria plenamente consciente da valoração de cada conduta (como proibida, permitida ou obrigatória); (c) o indivíduo, como regra, é livre para decidir observar ou não a norma; e (d) em caso de (ameaça de) descumprimento, o Poder Judiciário pode ser acionado para restabelecer o status quo. 4
O exemplo inicial demonstra que a necessidade de preenchimento de conceitos como “conduta”, “vontade” e “consciência” é apenas um ponto em uma reta infinita capaz de demonstrar a complexidade e fragilidade do fenômeno jurídico perante aquilo que é homem.
Desde a Grécia antiga e o nascimento da filosofia, o homem dedica estudos sobre a sua própria essência e existência sem chegar a uma conclusão definitiva. Em cada momento da história, uma visão de homem, ou aspecto do humano, veio à tona conforme o zeitgeist (espírito do tempo), exigindo uma adequação do direito ao novo paradigma. Nesse sentido, podemos destacar diferentes nomenclaturas atribuídas ao longo do tempo a este elemento singular humano: razão, alma, espírito, psyché, consciente, inconsciente, etc.
Por muito tempo, a racionalidade humana foi colocada em um pedestal, que qualificou e “elevou” o homem para além do animalesco. Atualmente, os avanços tecnológicos, as necessidades cotidianas e a dificuldade de se produzir conhecimento científico objetivo sobre a subjetividade, desviaram, em parte, o olhar da psicologia dessa essência inominada para o comportamento humano per si.
Muito embora Filosofia e Teoria do Direito já tenham colocado em xeque as visões tradicionais da racionalidade e neutralidade de padrões iluministas há algum tempo, os recentes avanços da psicologia comportamental e das neurociências elevaram essa crítica a outro patamar. Perguntas sobre a regulação de conduta em face da forma como os seres humanos reagem a incentivos; o grau de racionalidade das decisões humanas; ou até que ponto os seres humanos podem ser responsabilizados por suas condutas; e sobre os tipos de vieses aos quais estão submetidos os juízes na hora de decidir, apresentam respostas bem mais atraentes e profundas que as teorias jurídicas tradicionais, além de terem suporte empírico mais vasto. Essas respostas, entretanto, mostram que o senso comum jurídico vem operando em uma verdadeira zona de risco, por assumir premissas que, quando não se provam falsas, seriam no mínimo questionáveis.5
Nesse contexto, o espaço entre o racional e animal, do qual os humanos gostam tanto de se distanciar, reduziu. A experiência da análise comportamental demonstrou que nem sempre as ações humanas são conscientes e racionais, evidenciando que o “piloto automático” é mais comum do que se pensa e que há um frequente condicionamento para repetição de padrões de escolha.
Como exemplo das novas descobertas que podem afetar o direito, temos os estudos realizados com juízes em diversos países demonstrando que a racionalidade dos magistrados era severamente afetada por questões completamente estranhas aos elementos de prova constante nos autos, como esgotamento mental, fome,6 exposição a números aleatórios7 entre outras.
Um outro exercício interessante para ilustrar a interferência dos vieses cognitivos em nossas ações é o novo reality show comandado por Derren Brown, disponível na Netflix, denominado “The Push”. Sensacionalismos à parte, o programa demonstra o poder da persuasão e da conformidade social a fim de compelir uma pessoa a praticar condutas fora do seu padrão de normalidade, coisas corriqueiras, como cometer um assassinato.
Diante desse contexto, das constantes mudanças e descobertas, fica evidenciada a necessidade de um direito cada vez mais ventilado e ventilável. A morosidade judicial e legislativa é incompatível com o nível e a velocidade de alterações sociais que estamos experimentando. Ainda que não tão livre e consciente como gostamos de imaginar, nossas ações ainda causam danos e obstaculizam a convivência harmônica em sociedade, necessitando de regulação.
____________________
Referências
________________________________________
1. DINIZ, THIAGO DIAS DE MATOS. Uma possibilidade perdida para o direito penal: consciência e vontade no horizonte hermenêutico do finalismo. Revista Duc In Altum. Cadernos de Direito, v. 13, n. 29, jan-mar. 2021, p. 278. Disponível em: https://bit.ly/3ypMDNV. Acesso em 27 ago. 2021.
2. BOCK, Ana Mercês Bahia. Et all. Psicologias: Introdução ao Estudo da Psicologia. 13. ed. São Paulo: Saraiva. 1999.
3. Estudos científicos destinados a verificação de eficácia de uma norma.
4. MARDEN, Carlos. WYKROTA, Leonardo Martins. Neurodireito: o início, o fim e o meio. Revista Brasileira de Políticas Públicas. v. 8, n. 2. agosto, 2018, p. 50. Disponível em: https://bit.ly/3zptFIu. Acesso em :27 ago. 2021.
5. MARDEN, Carlos. WYKROTA, Leonardo Martins. Neurodireito: o início, o fim e o meio. Revista Brasileira de Políticas Públicas. v. 8, n. 2. agosto, 2018, p. 50. Disponível em: https://bit.ly/3zptFIu. Acesso em :27 ago. 2021.
6. Os participantes inadvertidos do estudo eram oito juízes de condicional em Israel. Eles passam dias inteiros revisando pedidos de condicional. Os casos são apresentados em ordem aleatória, e os juízes dedicam pouco tempo a cada um, numa média de seis minutos. (A decisão default é a rejeição da condicional; apenas 35% dos pedidos são aprovados. O tempo exato de cada decisão é registrado, e os períodos dos três intervalos para refeição dos juízes — a pausa da manhã, o almoço e o lanche da tarde — durante o dia também são registrados.) Os autores do estudo fizeram um gráfico da proporção de pedidos aprovados em relação ao tempo desde a última pausa para refeição. A proporção conhece picos após cada refeição, quando cerca de 65% dos pedidos são concedidos. Durante as duas horas, mais ou menos, até a refeição seguinte dos juízes, a taxa de aprovação cai regularmente, até chegar perto de zero pouco antes da refeição.
7. O poder de âncoras aleatórias foi demonstrado de algumas maneiras preocupantes. Juízes alemães com uma média de mais de 15 anos de experiência em tribunal primeiro liam a descrição de uma mulher que fora detida por furto em lojas, depois lançavam dois dados7 que haviam sido adulterados de modo a dar sempre 3 ou 9. Assim que os dados paravam de se mover, perguntava-se aos juízes se iriam sentenciar a mulher a uma pena de prisão maior ou menor, em meses, do que o número apresentado no dado. Finalmente, os juízes eram instruídos a especificar a exata sentença de prisão que dariam à mulher. Em média, os que haviam rolado um 9 diziam que iriam sentenciá-la a oito meses; os que obtinham um 3 diziam que iriam sentenciá-la a cinco meses; o efeito de ancoragem foi de 50%.
8. BRANDÃO, Cláudio Roberto C. B. Teorias da conduta no direito penal. Revista de informação legislativa, v. 37, n. 148, p. 89-95, out./dez. 2000. Disponível em: https://bit.ly/2WDA2d4. Acesso em: 27 ago. 2021.
9. KAHNEMAN, Daniel. Rápido e devagar duas formas de pensar / Daniel Kahneman; tradução Cássio de Arantes Leite. – Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.